|
|
Povos Indígenas - Os Primeiros Habitantes
Na região atual do Estado do Rio de Janeiro, os
habitantes que os colonizadores europeus primeiro encontraram
foram os TUPINAMBÁS, da família TUPI, espalhados, aos milhares,
em aldeias formadas por cerca de 500 a 3000 indígenas cada.
 Os
povos da família TUPI e os da família PURI (menos conhecidos,
mas ocupando grande extensão do território do Estado do Rio)
foram os que contribuíram, decisivamente, para a formação étnica
do povo fluminense. Os
povos da família TUPI e os da família PURI (menos conhecidos,
mas ocupando grande extensão do território do Estado do Rio)
foram os que contribuíram, decisivamente, para a formação étnica
do povo fluminense.
Pode-se dizer que nas terras do Estado do Rio de
hoje viveram indígenas de pelo menos vinte idiomas diferentes,
pertencendo todos (menos um não classificado) a quatro grandes
família linguísticas (Tupi, Puri, Botocudo e Maxacali). Sua
localização é imprecisa: a procura de novas terras para plantio
e territórios para caça, os conflitos intertribais, a busca
legendária “Terra Sem Males” ou “Paraíso Terrestre” e,
sobretudo, a fuga da escravidão pelos colonizadores, provocaram
sua constante movimentação.
Grupos indígenas no Estado do Rio de Janeiro em
diferentes momentos da Colônia. (Pesquisa realizada pelo
Programa de Estudos dos Povos Indígenas da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro) :
A família Tupi ou Tupi-Guarani Tupinambá ou
Tamoyo nas zonas de lagunas e enseadas do litoral do Cabo Frio
até Angra dos Reis;
Temiminó ou Maracajá, na Baía de Guanabara;
Tupinikim ou Margaya, no litoral norte fluminense e Espírito
Santo;
Ararape ou Arary, no vale do Paraíba do Sul;
Maromomone ou Miramomim, na antiga missão de São Barnabé.
A família Puri (vinculada pelo pesquisador Aryon Rodrigues ao
tronco Macro-Jê).
Puri, Telikong ou Paqui, nos vales do Itabapoana e Médio Paraíba
e nas serras da Mantiqueira e das Frecheiras, entre os rios
Pomba e Muriaé. Estava dividida em três sub-grupos: Sabonan,
Uambori e Xamixuma;
Coroado, em ramificações da Serra do Mar e nos vales dos rios
Paraíba, Pomba e Preto. Subdividida em vários grupos entre os
quais, Maritong, Tamprum e Sasaricon;
Coropó no rio Pomba e na margem do Alto Paraíba;
Goitacá, Guaitacá, Waitaka ou Aitacaz, nas planícies e restingas
do Norte Fluminense, em áreas próximas ao Cabo de São Tomé, no
território entre a Lagoa Feia e a boca do rio Paraíba.
Subdividida em quatro grupos: Goitacá-Mopi, Goitacá-Jacoritó,
Goitacá-Guassu e Goitacá-Mirim;
Guaru ou Guarulho, falada na Serra dos Órgãos e também nas
margens dos rios Piabanha, Paraíba e afluentes, incluindo o
Muriaé, com suas ramificações por Minas Gerais e Espírito Santo;
Pitá, na região do rio Bonito;
Xumeto, na Serra da Mantiqueira;
Bacunin, no rio Preto e próximo à atual cidade de Valença;
Bocayú, nos rios Preto e Pomba;
Caxiné, na região entre os rios Preto e Paraíba;
Sacaru, no vale do Médio Paraíba; .Paraíba, também no Médio
Paraíba.
A família Botocudo (pertencente ao tronco Macro-Jê), Aimoré ou
Batachoa, nos vales do rio Itabapoana e na região do rio Macacu)
A família Maxacalí ou Mashakali (vinculada por Aryon Rodrigues
ao tronco Macro-Jê).
Maxacalí ou Mashakali, falada na área do rio Carangola, nas
atuais fronteiras do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas
Gerais.
Língua não-classificada .Goianá, Guaianá ou Guaianã, cujos
falantes estavam concentrados na Capitania de São Vicente.
Alguns foram localizados na Ilha Grande, em Angra dos Reis e em
Parati.
OS TUPI
 Alegres,
apaixonados pela música e pela dança, os Tupi praticavam a
agricultura, cultivando mandioca, abóbora, amendoim, feijão,
pimenta, tabaco e árvores frutíferas. Fabricavam redes com o
algodão que plantavam e teciam. Os Tupinambá previam as chuvas e
as grandes marés, conheciam as relações entre os seres no meio
ambiente, as propriedades medicinais dos vegetais e selecionavam
sementes para a melhoria das espécies. Alegres,
apaixonados pela música e pela dança, os Tupi praticavam a
agricultura, cultivando mandioca, abóbora, amendoim, feijão,
pimenta, tabaco e árvores frutíferas. Fabricavam redes com o
algodão que plantavam e teciam. Os Tupinambá previam as chuvas e
as grandes marés, conheciam as relações entre os seres no meio
ambiente, as propriedades medicinais dos vegetais e selecionavam
sementes para a melhoria das espécies.
“Classificaram o mundo natural, com o rigor
equivalente ao realizado pelos europeus nos campos da Biologia,
Botânica e Zoologia. Observadores cuidadosos da natureza, os
índios produziram ciência”. (Bessa, J.R. e Malheiros, M. em
“Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro”)Programa de Estudos
dos Povos Indígenas - UERJ - Rio de Janeiro.
Os indígenas só consideravam propriedade pessoal
suas armas e enfeites. Partilhavam o restante: os produtos da
caça, pesca e colheita. Essa generosidade abrangia todos que
estivessem sob o seu teto.
“Como o valor maior que relacionava os membros da
tribo era o grupo - o individualismo não fazia sentido para
eles, - os índios, sobretudo os Tupi, tinham o costume de
oferecer uma mulher a todo estranho que fosse aceito entre eles,
ou um marido a uma mulher incorporada à tribo. Com isso, o recém
chegado tornava-se parente por afinidade de todo o grupo,
desempenhando um papel na tribo e participando de suas
atividades”.
Caldeira, J. em “Viagem pela História do Brasil”).
Os Tupi do litoral foram dizimados por epidemias,
escravidão e guerras nos séculos XVI e XVII.
OS PURI
 Da
família Puri os Goitacá, na região do hoje município de Campos,
eram exímios nadadores, habilíssimos na corrida e na utilização
do arco e flecha. Desde o início da colonização, combateram
portugueses e franceses. Mas acabaram sendo exterminados sem
deixar vestígio escrito de qualquer palavra de seu idioma, assim
como aconteceu com os Guarulho, também da família Puri.
Registrados foram os idiomas dos Coroado, Coropó e Puri.
Habitando o interior, em local de difícil acesso, não tiveram
contato permanente com o colonizador até o século XVIII. Esses
três povos, não tão bons agricultores quanto os Tupinambá, eram
imbatíveis nas técnicas de rastreamento e na caça. Alguns desses
grupos foram contatados somente no século passado. Os Puri
resistiram até os séculos XVIII e XIX. Da
família Puri os Goitacá, na região do hoje município de Campos,
eram exímios nadadores, habilíssimos na corrida e na utilização
do arco e flecha. Desde o início da colonização, combateram
portugueses e franceses. Mas acabaram sendo exterminados sem
deixar vestígio escrito de qualquer palavra de seu idioma, assim
como aconteceu com os Guarulho, também da família Puri.
Registrados foram os idiomas dos Coroado, Coropó e Puri.
Habitando o interior, em local de difícil acesso, não tiveram
contato permanente com o colonizador até o século XVIII. Esses
três povos, não tão bons agricultores quanto os Tupinambá, eram
imbatíveis nas técnicas de rastreamento e na caça. Alguns desses
grupos foram contatados somente no século passado. Os Puri
resistiram até os séculos XVIII e XIX.
PROJETO COLONIAL
O projeto colonial português se afirmava
desenvolvendo duas formas de intervenção drásticas para a
sobrevivência dos povos indígenas: usurpação de suas terras e
exploração da sua força de trabalho.
“O Recôncavo da Guanabara, onde floresciam
dezenas de aldeias indígenas, foi rapidamente retalhado em
sesmarias e começou a ser ocupado por engenhos desde meados do
século XVI. Com a fundação da vila de São Sebastião do Rio de
Janeiro, vastas sesmarias foram concedidas para a constituição
do patrimônio da cidade, incluindo parte da Baía de Guanabara e
adjacências. Para fora do núcleo urbano, estendia-se uma zona
agrícola e pastoril, com lavouras, engenhos e campos de
pastagem.
No final do século, além das sesmarias concedidas
a particulares, três dos quatros morros que marcariam os limites
do centro urbano do Rio de Janeiro já estavam ocupados: o do
Castelo, pelos jesuítas; o de São Bento, pelos beneditinos e o
de Santo Antonio, pelos franciscanos, pouco sobrando das antigas
aldeias.” (Bessa, J. e Malheiros, M. em “Aldeamentos Indígenas
do Rio de Janeiro”).
RESISTÊNCIA INDÍGENA
A colonização portuguesa não se realizou de forma
pacífica. Os índios Goitacá, em Campos, por duas vezes
destruíram a povoação e os engenhos de açúcar construídos em seu
território, obrigando o donatário Pero de Góes a abandonar a
região. (1545)
Os Tamoio ou Tupinambá (Família Tupi), que
ocupavam a região do Rio de Janeiro até Ubatuba, grandes
guerreiros, formaram uma confederação de tribos, a Confederação
dos Tamoios que, aliada aos franceses durante dez anos
(1555-1565), ameaçaram o povoamento português das capitanias do
sul. Só foram derrotados após várias ações de governadores
gerais, com reforço do Espírito Santo e São Vicente e dos índios
Temiminós, liderados por Araribóia, aliados dos franceses que
viviam na Baía de Guanabara.
Os franceses foram expulsos e os índios Tupinambá tiveram suas
aldeias destruídas e suas terras ocupadas e distribuídas entre
portugueses. Os que conseguiram sobreviver, fugiram para além da
Serra do Mar.
Como recompensa, Araribóia, líder dos Temiminós,
obteve da Coroa Portuguesa as terras onde hoje fica situada a
cidade de Niterói. Apesar de aliados, foram sendo
progressivamente expulsos da região pelos próprios colonos
portugueses. Seus últimos remanescentes sobreviveram em grande
miséria até o século XIX, na aldeia de São Lourenço.
PRIMEIROS HABITANTES : PRIMEIROS ESCRAVOS
Na realidade, os primeiros escravos do Brasil
foram os índios, também chamados, na documentação oficial, de
“negros da terra” ou “gentío da terra”.
Eram usados como força de trabalho em tempo de
guerra e em tempo de paz: soldados contra o invasor não
português e trabalhadores na construção de obras públicas,
engenhos, fortalezas, nas plantações do colonizador. Sua
mão-de-obra foi decisiva na construção do Aqueduto da Carioca
(Arcos da Lapa), a Casa de Fundição, do Senado, do “Caminho
Novo” para o escoamento de ouro das Minas Gerais.
Os portugueses procuraram dominar os índios
através da “Guerra Justa”, do “resgate” ou do “descimento”.
RESULTADO DO PROJETO COLONIAL
“O balanço feito pelo padre José de Anchieta em
1580 sobre o que havia acontecido com os índios da Bahia pode
muito bem ser aplicado aos índios do Rio de Janeiro: “a gente
que de vinte anos a esta parte é gastada nesta Baía, parece
cousa que não se pode crer: porque nunca ninguém cuidou, que
tanta gente se gastasse nunca, quanto mais em tão pouco tempo”.
O sistema colonial gastou também os índios do Rio
de Janeiro, dizimados pelas tropas de guerra e de resgate, pelos
descimentos, pelo trabalho forçado, pelas epidemias e pela fome,
numa catástrofe demográfica de grandes proporções. Primeiro,
foram os povos Tupi no Litoral, nos séculos XVI e XVII. Depois ,
nos séculos XVIII e XIX, foi a vez dos Puri, Coroado e Coropó,
que haviam resistido até então na área da bacia do Rio Paraíba.
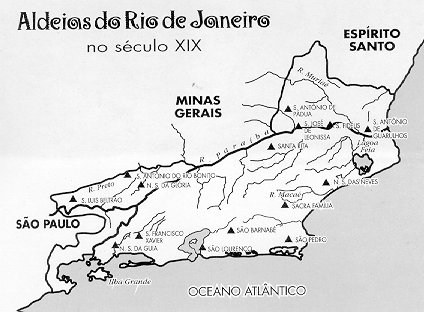
Dos inúmeros aldeamentos existentes no Rio, formados em
sucessivas datas ao longo de um período colonial, muitos deram
origem a atuais cidades e sedes de municípios. Apenas quinze
conseguiram chegar ao século XIX conservando elementos da
identidade tribal: .Aldeia de São Lourenço - Niterói; Aldeia de
São Barnabé - Itaboraí; Aldeia de São Francisco Xavier -
Itaguaí; Aldeia Nossa Senhora da Guia - Mangaratiba; Aldeia de
São Pedro - Cabo Frio; Aldeia Sacra Família de Ipuca - Casemiro
de Abreu; Aldeia Nossa Senhora das Neves - Macaé; Aldeia de
Santa Rita - Cantagalo; Aldeia Santo Antônio de Guarulhos -
Campos; Aldeia de São Fidélis de Sigmaringa - São Fidélis;
Aldeia São José de Leonissa ou Aldeia da Pedra - Itaocara;
Aldeia Santo Antonio de Pádua - Santo Antonio de Pádua; Aldeia
de São Luis Beltrão - Resende; Aldeia Nossa Senhora da Glória -
Valença; Aldeia de Santo Antonio do Rio Bonito - Conservatória.
(Bessa, J. e Malheiros, M. em “Aldeamentos Indígenas do Rio de
Janeiro”)
“No século XIX, índios das mais diferentes
etnias, em um número incalculável, migraram, quase sempre
compulsoriamente, para a Corte do Rio de Janeiro, onde faziam
pequenos biscates ou passavam a trabalhar em serviços
domésticos, na construção civil e nas obras públicas, no arsenal
da Marinha, na pesca da baleia, como marinheiros e remeiros de
canoas do Serviço da Galeota Real ou do Escaler da Ribeira.
Estes índios urbanos, quase sempre sem emprego e
sem domicílio certo, formavam uma “tribo” desfigurada que vagava
pelas tabernas e vendas dos principais bairros, sobretudo
Candelária, Santa Rita e São José, entrando em conflito
permanente com a polícia...
Durante todo o período republicano, no século XX,
os índios deixam de figurar no mapa da cidade e do Estado do Rio
de Janeiro e na documentação oficial. Reapareceram apenas na
década de 1950, quando os índios Guarani, migrando do sul do
país, estabelecem três aldeias em Angra dos Reis e Parati, onde
permanecem até os dias de hoje”.
(Bessa, J. e Malheiros, M. em “Aldeamentos Indígenas do Rio de
Janeiro”).
“Com a extinção de cada grupo indígena, o mundo
perde milhares de anos de conhecimentos acumulados sobre a vida
e a adaptação a ecossistemas tropicais”. ( Darrel Posey,
etnobiólogo norte-americano em “Aldeamentos Indígenas do Rio de
Janeiro”) ”.
HERANÇA INDÍGENA
“Dentre os muitos legados indígenas à sociedade
que foi constituído em seu território, o mais importante foi,
sem dúvida, o do seu sangue e genes. Desde a primeira hora, a
mulher indígena foi o ventre em que se gerou a população que
ocuparia o imenso território conquistado”. (Berta Ribeiro em “O
Índio na História do Brasil”).
O legado indígena está presente na língua
portuguesa em 46% dos nomes populares de peixes e 35% dos nomes
de aves, segundo o linguísta Aryon Rodrigues e uma infinidade de
nomes: Niterói, Iguaçu, Ipanema, Carioca...
“As línguas indígenas, que deram nomes às coisas,
guardam informações e saberes, funcionando como uma espécie de
arquivo. Por isso, é necessário conhecer a contribuição efetiva
que legaram à língua portuguesa e entender como viviam os povos
que as falavam, para que a nossa sociedade possa se apropriar,
de forma inteligente, da experiência milenar arquivada nessas
línguas. Este conhecimento, certamente, pode ajudar o brasileiro
a viver melhor hoje, tornando-o menos ignorante e mais capaz
para respeitar e valorizar as sociedades indígenas atuais”.
(Bessa, J. e Malheiros, M. em “Aldeamentos Indígenas do Rio de
Janeiro”).
CRONOLOGIA DO PERÍODO
1502 - A primeira expedição que explora o litoral
fluminense descobre a baía da Guanabara.
1503 - Gonçalo Coelho estabelece a primeira feitoria, onde hoje
fica a praia do Flamengo.
1504 - Estabelecimento de feitoria em Cabo Frio.
1504-1530 - Corsários franceses, traficantes de pau-brasil,
incursionam pelo litoral fluminense.
1531 - A expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza aporta
na Guanabara.
1545 - Os índios goitacás destróem a vila da Rainha, na
Capitania de São Tomé.
1548 - Regimento de Tomé de Souza normatiza trabalho indígena.
1553 - O governador-geral Tomé de Souza chega ao Rio com o
jesuíta Manoel da Nóbrega.
1555 - Nicolas Durand de Villegagnom aporta na Guanabara e funda
a França Antártica.
1560 - O governador-geral Mem de Sá destrói o forte Coligny
construído pelos franceses.
1565 - Fundação da cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá.
1567 - Morte de Estácio de Sá na batalha contra os franceses,
aliados aos tamoios.
1568 - Doação de sesmaria a Araribóia para formação da Aldeia de
S. Lourenço.
1573 - José de Anchieta é designado reitor do Colégio dos
Jesuítas no Rio de Janeiro.
1584 - Fundação da Aldeia de São Barnabé.
1586 - Da Bahia, chegam os primeiros beneditinos para fundar o
Mosteiro de São Bento.
1589 - Chegada dos Carmelitas ao Rio de Janeiro.
1599 - Quatro navios holandeses tentam invadir o Rio de Janeiro.
1611 - Lei de 10/09 regulamenta o funcionamento das aldeias de
repartição.
1615 - Com o nome de Aldeia de Itinga é fundada Aldeia de S.
Francisco Xavier.
1617 - Concessão de terras para a Aldeia de São Pedro.
1620 - Fundação da Aldeia de Nossa Senhora da Guia.
1640 - Ameaçados de expulsão, jesuítas assinam acordo com a
Câmara do Rio de Janeiro.
1659 - Criação da Aldeia de Santo Antonio de Guarulhos.
1698 - Proibição de casamento entre escravos e repartição.
1714 - Conflitos dos jesuítas com o governador pelo controle dos
índios.
1722 - Revolta dos índios da Aldeia de São Barnabé.
1748 - Conclusão da Igreja da Aldeia da Sacra Família de Ipuca.
1755 - Abolida legalmente a escravidão dos índios.
1757 - Criado o Diretório dos Índios para regulamentar trabalho
compulsório.
1761 - Imigrantes europeus ocupam terras da Aldeia de Ipuca.
1798 - Decretada a extinção do Diretório.
1809 - O Princípe Regente manda fazer guerra ofensiva aos
Botocudos.
1831 - A Regência revoga as leis que permitiam escravização dos
Botocudos.
1833 - Os bens dos índios passam a ser administrados pelos
Juízes de Órfãos.
1845 - Criação da Diretoria Geral de índios e regulamentação da
catequese.
1866 - A Província do Rio de Janeiro extingue a aldeia de São
Lourenço.
1902 - Registro de morte de Joaquina Maria, índia Puri, com
cerca de 90 anos.
BIBLIOGRAFIA :
-
BESSA, José & MALHEIROS, Márcia. Aldeamentos ídígenas do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, UERJ/Departamento de Extensão,
1997.
-
CALDEIRA, Jorge at alii. Viagem pela História do Brasil, São
Paulo, Companhia das Letras, 1997. RIBEIRO, Berta. O índio na
História do Brasil, São Paulo, Global, 1983.
POR ONDE COMEÇAR UMA PESQUISA SOBRE OS ÍNDIOS? .
(Roteiro Bibliográfico, 1996 - Ministério da Educação e do
Desporto)
-
LOPES DA SILVA, Aracy - Índios, Coleção Ponto-Por-Ponto,
Editora Ática, São Paulo, 1988, 40 páginas.
-
LARAIA, Roque B. - Cultura, um conceito antropológico, Jorge
Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1986, 116 páginas.
-
JUNQUEIRA, Carmen - Antropologia indígena - uma introdução,
Educ, São Paulo, 1991, 111 páginas.
-
RIBEIRO, Berta - O índio na cultura brasileira, editora Revan,
Rio de Janeiro, 2º edição, 1991, 186 páginas.
-
PEREGALLI, Enrique - A América que os europeus encontraram,
Coleção Discutindo a História, São Paulo, Editora da UNICAMP /
Atual Editora, 1987, 65 páginas.
-
CENTRO ECUMÊNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CEDI) -
Aconteceu Especial: Povos Indígenas no Brasil - 1987-1990,
CEDI, São Paulo, 1987-1990, 592 páginas.
-
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI) - Porantim - em defesa
de causa indígena. (Caixa Postal 03679, CEP 70084-970,
Brasilia - DF).
-
MELATTI, Julio Cesar - Índios do Brasil, Hucitec, São Paulo,
48ª edição, 1983, 220 páginas.
-
RAMOS, Alcida - Sociedades indígenas, Editoras Ática, Série
princípios, São Paulo, 1986, 96 páginas.
-
VIDAL, Lux (org.), Grafismo indígena - estudos de Antropologia
estética, Nobel/Edusp, São Paulo, 1992, 296 páginas.
-
LOPES DA SILVA, Aracy (org) - A questão indígena na sala de
aula - Subsídios para professores de 1º e 2º graus,
Brasiliense, São Paulo, 1987, 253 páginas 2º parte.
-
GRUPIONI, Luis Donisete Benzi (Org) - Índios no Brasil,
Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, São Paulo, 1992,
279 páginas.
-
NOVAES, Sylvia Caiuby, (org) - Habitações indígenas,
Nobel/Edusp, São Paulo, 1983, 196 páginas.
-
FERNANDES, Joana. - Índios - esse nosso desconhecido, Editora
da UFMT, Cuiabá, 1993, 149 páginas.
-
RODRIGUES, Aryon D. - Línguas brasileiras - Para o
conhecimento das línguas indígenas, Edições Loyola, São Paulo,
1986, 134 páginas.
-
RIBEIRO, Darcy - Os índios e a civilização, Editora Vozes,
Petrópolis, 1982,4ª edição, 509 páginas.
-
GOMES, Mércio P. - Os índios e o Brasil, Editora Vozes,
Petrópolis, 1988, 237 páginas.
-
GALVÃO, Eduardo - Encontro de sociedades, Índios e brancos no
Brasil, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979, 300 páginas.
-
PREZIA, Benedito e HOORNAERT, Eduardo - Esta terra tinha dono,
Cehila Popular/CIMI/FTD, São Paulo, 1991, 184 páginas.
-
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (org) - História dos índios no
Brasil, Cia. da Letras/Secretaria Municipal de Cultura/São
Paulo, São Paulo, 1992, 611páginas.
-
RIBEIRO, Berta G. - O índio na história do Brasil, Global
Editora, São Paulo, 1983, 125 páginas.
-
MÉLIA, Bartolomeu. Educação indígena e alfabetização, Edições
Loyola, São Paulo, 1979, 92 páginas.
-
LOPES DA SILVA, Aracy (Coord.). - A questão da educação
indígena, Comissão Pró-Índio de São Paulo/Brasiliense, São
Paulo, 1981, 222 páginas.
-
EMIR, Loretta et alli (org) - A conquista da escrita -
encontros de educação indígena, OPAM/Iluminuras, São Paulo,
1989, 250 páginas.
-
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela - Manuela - Os direitos do índio,
Brasiliense, São Paulo, 1987, 230 páginas.
-
VIDAL, Lux (coord) - O índio e a cidadania, Brasiliense e
CPI/SP, São Paulo, 1983, 100 páginas.
-
AZANHA, Gilberto e VALADÃO, Virginía Marcos - Senhores destas
terras - Os povos indígenas no Brasil; da colônia aos nossos
dias, Coleção História em Ducumentos, Atual Editora, São Paulo
1991, 82 páginas.
-
MESGRAVIS, Laima - O Brasil no primeiros séculos, Coleção
Repensando a História, Editora Contexto, São Paulo, 1989, 68
páginas.
-
LOPES DA SILVA, Aracy (org) - A questão indígena na sala de
aula, Subsídios para professores de 1º e 2º graus (já citado),
1ª parte.
-
TELLES, Norma A. - Cartografia brasilis ou esta história está
mal contada, Coleção Espaço, Edições Loyola, São Paulo, 1984,
156 páginas.
-
COELHO, Ana Lucia et alli. - A imagem do índio na literatura
infantil e juvenil: bibliografia, Secretaria Municipal de
Cultura de São Paulo, São Paulo, 1992, 47 páginas.
|
|