|
Um
reflexo da Idade Média: as Ordens Religioso-Militares.
Dois
exemplos: Templários e Hospitalários.
A
realidade Ibérica: as Ordens Militares em Portugal.
“A Idade Média foi caracterizada por dois instrumentos: a
espada do guerreiro e o “cajado” do pastor (ou seja o
papel que o clero teve como guia das populações segundo a
própria doutrina de Cristo).
Com as Ordens Religioso-Militares estes dois instrumentos
cruzaram-se como nunca antes”. (João Simões)
Índice
Introdução:
A cavalaria.
2
Capítulo
I: O contexto de aparecimentos das ordens militares (seus
aspectos)
3
Capítulo
II: O percurso internacional das ordens militares.
4
Capítulo
III: As ordens militares na Península Ibérica, o seu
aparecimento (contexto político e militar)
5
Capítulo
IV: As ordens militares em Portugal
6
Capítulo
V: O papel das ordens militares na arquitectura militar
9
Capítulo
VI: As ordens militares, sua organização e vida interna.
10
Considerações
finais.
12
Bibliografia.
12
Imagens.
12
Em meados do século V a legião, organização militar romana
que se batia em filas cerradas e compactas acompanha a
decadência do Império Romano do Ocidente, ficando a
cavalaria como única arma eficaz de defesa. Cito um
exemplo ocorrido na batalha dos Campos Catalúnicos (451)
entre Hunos e Romanos aliados a Visigodos que foi travada
exclusivamente pela cavalaria. O ideal de soldado
tornou-se a bravura e a força no seu estado mais
primitivo. A maior honra para os homens passa a ser a
glória da morte corajosa no campo de batalha, como estava
patente na ideologia germânica.
Com a desagregação do mundo romano, a sua viragem para a
ruralidade, a decadência das cidades, e a desorganização e
insegurança social nasce uma nova época para a Europa
Ocidental. Emergem dois poderes distintos: o primeiro, a
Igreja Católica Romana, como herdeira do Império,
receptáculo do poder eterno e divino. No entanto, o
predomínio religioso absoluto só seria possível se a
guerra e a paz fossem conduzidas segundo as leis da
igreja; o segundo poder era a ordem social, criada pelo
feudalismo que se implantava, que se encontrava na mão da
aristocracia guerreira e que visava a obtenção de
segurança num mundo pautado pela incerteza, em que as
pessoas estavam desamparadas e sem nada a que se apoiar.
A guerra não foi proibida nem tão pouco abolida, visto que
era considerada inerente à natureza humana. Porém,
influenciada pela Igreja, aparece como um julgamento pelas
armas, a qual Santa Sé arbitrava em nome de Deus.
No entanto, a Igreja impunha limites à guerra. É o caso da
“Paz de Deus” de que se ouve falar a primeira vez cerca de
990. Visto que a força e violência dos cavaleiros era tal
a igreja tentou restringir-lhes a actividade tomando sob a
sua protecção os pobres (clérigos, camponeses, mulheres,
órfãos, peregrinos e velhos) interditando aos cavaleiros o
uso de violência sobre eles. Passando depois para uma
imposição com as “Tréguas de Deus” que saem do sínodo de
Elna em 1027 no qual se limita e canaliza a violência dos
guerreiros para a “guerra justa”, exposta sob várias
condições: toda a guerra defensiva é justa; a guerra
travada para recuperar um bem injustamente tomado é
lícita; a guerra tem que ser decretada por uma autoridade
legítima.
Para fazer cumprir isto a igreja usava duas armas
terríveis: a excomunhão (ou seja um rei ou nobre quando
atingidos pela excomunhão não podiam receber os
sacramentos nem tão pouco podia pisar solo sagrado, muito
menos ser enterrados nele) e o interdito (um nobre
interditado não podia ter nas suas terras um padre, até
podia ter uma igreja, mas era proibido o seu uso e por
consequência as populações que viviam nesse domínio
deixava de ter acesso ao culto).
Em 1095 o papa Urbano II no concílio de Clermont convida
os cavaleiros a respeitar ambos os movimentos anteriores,
apelando por outro lado à guerra para libertar Jerusalém,
ocupada “injustamente” pelo Islão. O guerreiro torna-se
num cavaleiro cristão que une à sua força e entusiasmo
germânico, a humildade e princípios cristãos. Infelizmente
esta fusão não teve o reflexo desejado, pois raramente foi
concretizado no calor da batalha. Acaba de nascer o
movimento que ficará conhecido como as Cruzadas do
Oriente.
Vários aspectos contribuíram para o aparecimento das
ordens militares. A saber:
- Aspectos económicos e sociais: após o ano mil dá-se um
grande florescimento económico e demográfico no ocidente
cristão que se prolongará por três séculos, verificando-se
progressos técnicos a nível agrícola (alfaias de ferro,
afolhamento trienal), renascimento das cidade aliado a um
renascimento do comércio (cito os casos das cidade
italianas de Veneza e Génova, a Flandres com Bruges à
cabeça, as feiras da Champagne), repercutindo-se num
aumento demográfico por todo o Ocidente e também se prende
com a necessidade de proteger as novas rotas comerciais.
- Aspectos religiosos e políticos: dão-se grandes
peregrinações a Roma, a Jerusalém e a Santiago de
Compostela; a reforma gregoriana e a intenção do papa
Gregório VII (1073-85) que pretende arrancar a igreja ao
laicismo que alastrava por ela dentro. O desenvolvimento
espiritual do séc. XI em que o ocidente se cobre de muitas
igrejas; a evolução do monaquismo especialmente com a
ordem de Cister e de ordens dos cónegos regulares.
Impõe-se a ideia da divisão social em três grupos:
bellatores que tem por obrigação combater e defender os
demais, oratores que rezam para a salvação e intercedem
junto de deus a favor dos demais, laboratores que tem o
dever de sustentar os dois grupos anteriores e “trabalhar
em prole dos outros”.
- Aspectos Militares: basicamente deve-se às cruzadas.
Porém era um movimento não inovador uma vez que no Magreb
no séc. IX existiam Ribats que eram conventos – fortaleza
muçulmanos em que os seus membros cumpriam um serviço
temporário e lutavam pela expansão do Islão.
A Cruzada é pregada por Urbano II no concílio de Clermont
em 1095. Os cristãos gregos de Constantinopla não se
associam, exceptuando pontualmente, vindo mesmo a ser
vítimas do movimento em 1204, quando os cruzados tomam
Constantinopla.
Mas falando pessoalmente penso que foi este motivo, muitos
mais que os outros, que originou o aparecimento das ordens
militares: a igreja atinge um extremo de fanatismo
religioso, sendo talvez o pensamento de então: “os
muçulmanos ocupam Jerusalém, massacram os peregrinos
cristãos, o que é inadmissível, canalizemos o ímpeto e a
violência dos cavaleiros e vamos expulsar os infiéis da
Terra Santa”.
As ordens militares oferecem aos cavaleiros uma ascese
própria, compatível com o seu modo de vida, evitando o
convento e a fuga ao mundo.
Sendo produto do séc. XI, satisfazem as necessidades
espirituais da cavalaria, na qual a igreja gregoriana se
baseia para ter sucesso na reforma no ocidente e nas
Cruzadas no oriente.
Durante os sécs. XII e XIII os objectivos das Cruzadas
alargam-se atingindo os heréticos no Sul de França
(albigenses), os adversários políticos da igreja e do
papado, populações pagãs da zona do Báltico e a Espanha
Muçulmana.
Com a Terra Santa perdida, a reconquista finalizada, as
ordens militares desaparecem ou transformam-se
profundamente.
Neste capítulo pretendo abordar cada ordem de forma
particular, relatando o seu percurso internacional desde a
fundação até ao seu término.
A Ordem
do Templo.
A primeira cruzada (1096-99) tornou possível a
constituição de quatro estados na Síria-Palestina: o
condado de Edessa, o principado de Antioquia, o condado de
Trípoli e o reino de Jerusalém (ver mapa 1). Está patente
o desejo de povoar e defender esses estados contra os
emires de Alepo e de Damasco, assim como contra o califado
Fatímida do Egipto, mas também a necessidade de proteger
os peregrinos e os lugares santos, o que leva a que em
1120 Hugo de Payns, cavaleiro da Champagne, decida criar
com os seus companheiros na Terra Santa uma milícia para
proteger os peregrinos e guia-los nos lugares santos.
O objectivo é o combate contra os muçulmanos seguindo uma
regra religiosa. Assim dá-se a fundação da ordem do Templo
sob o nome oficial de “Fratres Militiae Templi”, na Terra
Santa em 1119, com o objectivo de combater os infiéis.
O rei de Jerusalém, Balduíno II, aprova o projecto e
instala-os na cidade na mesquita de al-Aqsa erguida sobre
as fundações do Templo de Salomão, estando sob a
autoridade do patriarca de Jerusalém e dos cónegos do
Santo-Sepulcro.
Em 1128 a ordem é confirmada pelo papa devido à
intercessão directa de S. Bernardo de Clairvaux que
escreve “ De laude nova militae ad milites Templi” na qual
exalta os novos cavaleiros e levanta todas as dúvidas
sobre a legitimidade das suas acções na Terra Santa.
Em 1129 Hugo de Payns faz adoptar ao concílio de Troyes a
regra da nova ordem, assim, emancipando-se do patriarcado
de Jerusalém. Doações enormes permitem à nova ordem criar
uma rede de comendas no ocidente, cujas receitas são
enviadas para o oriente, tal como muitos homens livres
(nobres ou não) que pronunciam os três votos (obediência,
pobreza e castidade) e partem para a Terra Santa para
defende-la do infiel. Porém esta história não tem um fim
feliz.
O processo dos Templários (1307-14) simboliza a afirmação
da política do estado moderno face ao poder da igreja. Em
1312 a coroa francesa, na pessoa do rei Filipe IV, o Belo,
principal opositor dos Templários, leva o papa Clemente V
a abolir a Ordem do Templo, mas sem a julgar ou condenar,
no concílio de Viena.
Em 1307 são acusados de renegar Cristo, práticas mágicas,
e práticas sexuais devassas, as clássicas acusações contra
heréticos, prenunciando o seu fim. A reacção dos
Templários é inútil e a fogueira é o castigo para 54
membros em Paris, talvez em 1310.
Os seus bens são atribuídos á ordem do Hospital ou passam
para a coroa francesa. O mestre da Ordem, Jacques de
Mollay, após uma conduta hesitante por parte das
autoridades inicialmente, termina na fogueira em 18 de
Março de 1314.
A ordem
do Hospital.
Antes da primeira cruzada um hospital fora fundado em
Jerusalém perto do Santo Sepulcro em 1048 por mercadores
italianos para acolher os peregrinos que vinham do
ocidente. O seu primeiro administrador conhecido é Gérard
de Amalfi, liderando o grupo com o nome de “Ordem de S.
João do Hospital”.
Devido ao sucesso da primeira cruzada, as visitas de
peregrinos aumenta, tal como as doações para o hospital.
Também no ocidente especialmente nos portos de embarque
dos peregrinos (na Itália e na Provença especialmente) os
hospitais são fortificados e afiliam-se ao hospital de
Jerusalém. O seu crescimento foi rápido e no início do
séc. XII, a ordem dispunha de casas dispersas pela Europa
e pelo Próximo Oriente.
A 15 de Fevereiro de 1113 o papa Pascoal II reconhece o
hospital de S. João de Jerusalém como ordem independente
recebendo nesse mesmo ano uma regra própria. Ainda no
primeiro quartel do séc. XII são-lhe atribuídas
características militares, que se juntam aos seus
objectivos iniciais de assistência e caridade pública.
Adquire esse carácter militar sob o comando de Raimundo de
Puy, que sucede a Gérard d’Amalfi em 1120 fortalecendo-se
essa facção militar entre 1130 (seguido ao concilio de
Troyes dos Templários) e 1136, quando o rei de Jerusalém
lhes doa a guarda da fortaleza de Bethgibelin (sul da
Palestina). Participam na batalha do Hattin contra
Saladino tal como os Templários onde acabam por sofrer
baixas numerosas.
A queda de S. João de Acre em 1291 obriga os Hospitalários
tal como os Templários a refugiarem-se em Chipre (ver mapa
2).
A ordem, agora sob a direcção de Guillaume de Villaret e
após 1305 do seu sobrinho Foulques de Villaret, conhece
sérias dificuldades. A conquista de Rodes começada em 1306
e terminada em 1309 é uma escapatória da falta de poder e
contestação que acontecia pelo Ocidente que acusavam as
ordens de falhar. Contestação graças à qual os Templários
acabaram por pagar por todas as ordens.
Rodes era uma ilha grega em que o seu governador se
encontrava em rebelião contra o imperador bizantino, além
de um ninho de piratas que ameaçava constantemente o
comércio e as rotas no Mediterrâneo Oriental. A campanha
conclui-se com a submissão de Rodes e das ilhas do
Dodecanesso (ver mapa 3).
Porém apesar dos seus sucessos, Foulques é impopular e
tendo escapado a uma tentativa de assassinato é deposto
pelos seus pares em 1317, e depois pelo papa João XXII.
Lançara no entanto as bases dum principado que será por
dois séculos o bastião avançado da cristandade perante os
Turcos Otomanos.
A ordem acaba por ser expulsa de Rodes por Solimão, o
Magnífico em 1522 após heróica resistência de seis meses
de cerco.
Após algumas etapas pela Europa recebem das mãos do
imperador Carlos V de Habsburgo a ilha de Malta. Aí
continuarão o seu papel de bastião da cristandade perante
os Otomanos, onde permanecerão até serem expulsos em 1798
por Napoleão Bonaparte.
Como é óbvio outras ordens surgiram na Terra Santa: a
Ordem Teutónica (fundada em 1198), a ordem de São Lázaro
(fundada no fim do séc. XII), ou a ordem de S. Tomás de
Acre (fundada em 1227-28).
As ordens da Terra Santa possuíam ainda estabelecimentos
na Pequena Arménia, em Chipre e nos Estados Latinos da
Grécia (fundados após 1204).
Para abordar esta parte julgo que é necessário recuarmos
uns séculos, mais precisamente ao ano de 711, ano em que a
invasão muçulmana, derrota o rei Rodrigo dos Visitados na
batalha da Lagoa de Janta. O reino visigodo encontrava-se
num estado de anarquia total e assim o islão submete a
península rapidamente, porém subsistem pequenos enclaves
cristãos no norte: as Astúrias, nos Pirinéus e o condado
de Barcelona reconquistado pelos exércitos de Carlos Magno
em 804. Ou seja é das montanhas que partem os primeiros
“raids” contra o califado de Córdova. Estes “raids” que
posteriormente passarão a campanhas deu-se o nome de
Reconquista.
A reconquista tem duas fases principais: a primeira que
ocorre nos sécs. XI e XII com a tomada de Saragoça e
Toledo, aproveitando a divisão do Califado de Córdova no
séc. XI em diversos reinos taifas.
A Segunda fase ocorre na primeira metade do séc. XIII após
a batalha de Navas de Tolosa (1212) e cuja vitória abre a
Espanha do Sul e Portugal aos exércitos cristãos.
A reconquista acompanha progressivamente a formação dos
reinos ibéricos: Leão e Castela que se fundirão (1230),
Portugal, Navarra, Aragão e Catalunha.
A ponte de ligação entre a reconquista e as cruzadas do
oriente é a luta contra os muçulmanos. Sendo a
participação das ordens internacionais apagado pois
concentram os seus esforços em grande parte na Terra
Santa, o que leva os monarcas ibéricos a criar as suas
próprias ordens militares, mas com uma raiz e identidade
própria.
O próprio ambiente era favorável à associação entre a luta
militar e o ascetismo antes da introdução das ordens do
Templo e do Hospital na península, pois já havia
confrarias ou seja associações de cavaleiros próximos à
monarquia e sob jurisdição episcopal mas que acabam por se
ligar a ordens religiosas existentes: os cavaleiros de
Santiago associam-se aos cónegos de Santo Agostinho tal
como os de Calatrava aos monges de Cister.
A principal razão de ser das ordens ibéricas seria a
perseguição dos inimigos de Cristo e a expulsão total do
Islão.
Tal como em Castela, Leão e Aragão, Portugal também teve
ordens militares no seu território e com um papel bastante
relevante em diversos aspectos (ver mapa 4).
Como tal começarei pelas ordens ditas internacionais: o
caso do Templo.
O documento mais antigo em relação aos Templários data de
1128, e tratava-se da doação do castelo e terra de Soure
(a 20 km de Coimbra) aos Templários por parte de D.
Teresa. Esta terra estava à cabeça dum vasto domínio em
torno do itinerário romano que ligava: Lisboa (Olissipo),
Coimbra (Aeminium) e Braga (Braccara Augusta) denotando
confiança da condessa na ordem para defender e povoar este
território estratégico.
Em 1131 D. Afonso I transfere a corte para Coimbra o que
valoriza este território. Os Templários restauram o
castelo e constróem a fortaleza de Ega.
O seu primeiro combate data de 1144 na altura do ataque
muçulmano contra Soure, a que resistem heroicamente e saem
vencedores.
Por esta época sofrem uma reorganização interna e aparecem
as primeiras referências ao procurador da ordem (um
investigador encarregue de zelar e controlar se os membros
cumprem o que lhes é pedido ou que juraram obedecer à
regra).
Em 1145 recebem novas doações como: Penas Roías, Mogadouro
e Longroiva. A partir daí participam cada vez mais
activamente nas campanhas de D. Afonso I. Participam na
tomada de Santarém e de Lisboa (1147).
Entre 1157-58 D. Afonso I outorga-lhes uma carta de
liberdade e de imunidade dos seus bens para com os
funcionários da coroa. Os seus territórios não podem ser
penetrados por qualquer tipo de agente ou funcionário da
coroa e livram-se do pagamento de impostos à coroa entre
outras benesses.
O período dourado da ordem em Portugal coincide com o
governo do mestre Gualdim Pais (1156-1195), que
participara na Segunda cruzada (1151/52-1155/56) e que
ficara pelo Oriente mais uns anos após a cruzada. Quando
regressa é eleito mestre, mandando erguer o castelo de
Pombal (1156). Recebem também em 1159 o castelo de Ceras.
Terminam a construção do castelo de Tomar em 1169. O rei
confirma-lhes a possessão do seu território e ganham ainda
mais dois castelos: Cardiga e Zêzere.
Iniciam então um programa de reforma e restauração de
fortalezas, o mais ambicioso do séc.XII, como por exemplo
construção de Almourol, Pombal, Penas Roías, Longroiva e
reforma dos castelos de Cardiga, Zêzere, Monsanto,
Idanha-a-Velha.
No fim do séc. XII controlam a margem norte do Tejo
(Castelo Branco, Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova, Almourol e
Tomar) e possuem ainda outros como Soure e Pombal.
O seu papel na ocupação do território e na sua defesa foi
fundamental tal como atraíam colonos e deram um grande
incentivo ao povoamento dos territórios a eles confiados.
O seu património a nível geográfico situa-se entre o
Mondego e o Tejo.
No fim do séc. XII início do séc. XIII esse património
divide-se em quatro zonas: a primeira que controla o
intenerário romano (Soure, Ega e Pombal); a segunda
controla a rota do interior (Ceras, Tomar e Almourol); a
terceira toca a fronteira oriental do reino (Monsanto e
Idanha-a-Velha) e a quarta é o nordeste do país (zona de
Trás-os-Montes e Beira-Alta). Tinham ainda o castelo de
Nisa.
Passo agora há segunda das ditas ordens internacionais: o
caso do Hospital.
Os Hospitalários aparecem em Portugal entre 1122-28. No
início tal como na Terra Santa não tiveram mais que um
papel de assistência social tendo uma sede civil em Leça
do Bailio.
O primeiro testemunho de actividade militar verifica-se em
1189 na tomada de Silves por D. Sancho I. Em 1194 recebem
a Quinta de Guidimtesta, onde irão construir o castelo de
Belver.
Em 1217 participam na conquista de Alcácer do Sal.
Em 1224 D. Sancho II doa-lhes o castelo de Algoso na
fronteira nordeste do reino para a protegerem de ataques
vindo de Leão. Pouco depois D. Sancho II atribui-lhes o
priorado do Crato (1232), onde construirão o dito castelo.
A acção militar dos Hospitalários na margem esquerda do
Guadiana assegura-lhes, por quarenta anos, a possessão dos
castelos de Mourão, Moura e Serpa.
Em meados do séc. XIII tinham erguido o castelo da
Amieira, na margem esquerda do Tejo.
O património português da ordem é o reflexo do papel
exclusivo de assistência social executado nos primeiros
três quartos do séc. XII.
A sua geografia de património está centrada a norte do
Douro tendo ainda mais dois pólos: um em redor do Tejo
entre Pedrógão, Oleiros, Belver e Crato, e um outro em
redor do Guadiana especialmente na margem esquerda
(Mourão, Moura e Serpa).
Como referi atrás a ordem do Templo foi extinta pelo papa
e por influência de Filipe IV – O Belo, rei de França e
Nogaret, o seu chanceler.
Em 1317 o rei de Aragão funda a Ordem de Montesa, que
agrupa algum património templário desse reino (no reino de
Valência). Nos outros territórios o património templário
passou para os Hospitalários.
Em Portugal deu-se algo semelhante e em 1319, devido ao
grande papel de D. Dinis (1279-1325), funda-se a Ordem de
Cristo que conserva o hábito branco e a cruz vermelhas dos
Templários, apesar, de se afiliar a Calatrava. A sua
primeira sede foi Castro Marim, no extremo sudeste do
reino. Mais tarde a sua sede foi transferida para Tomar.
Não falo mais sobre esta ordem porque o seu tempo será o
da expansão ultramarina onde ai sim irá continuar o
espírito da reconquista mas numa outra perspectiva.
Outra ordem bastante relevante para a história portuguesa
foi a Ordem de Santiago. Esta ordem aparece em Portugal em
1172 aquando recebe Arruda (dos Vinhos) das mãos de D.
Afonso I. Recebem também o castelo de Monsanto (1172) e
Abrantes (1173) que perdem tempos depois. Durante os
últimos anos de D. Afonso I e o início do reinado de D.
Sancho I conhecem um período negro após um começo
promissor.
Em Outubro de 1186 recebem de D. Sancho I os castelos de
Alcácer do Sal, Palmela e Arruda. Mas estes castelos estão
pouco tempo nas suas mãos pois as campanhas almóadas de
1190 e 1191 fazem perder estes territórios.
Em 1217 participam na reconquista de Alcácer do Sal e
recuperam os castelos perdidos a sul do Tejo. É-lhes doado
Aljustrel (1235), Sesimbra (1236), Mértola (1239),
Ayamonte (1240) e Tavira (1244) tendo uma importância
fundamental na parte final da reconquista portuguesa.
A sua intervenção no final da reconquista do território
português tornou-lhes possível consolidar os seus domínios
territoriais no sul do reino especialmente entre o
Alentejo e o Algarve.
Em 1327 num registo a ordem possuía 31 comandos da ordem
em Portugal: quatro a norte do Tejo e os restantes
repartidos entre o Alentejo e o Algarve.
A primeira sede da ordem foi em Santos (região de Lisboa),
depois passou para Alcácer do Sal, de seguida para Mértola
e por fim para Palmela.
Durante bastante tempo a ordem portuguesa de Santiago não
foi mais do que um ramo da ordem castelhana governada por
um comandante-geral sob tutela do mestre de Uclés
(casa-mãe da ordem em Castela). A sua independência
verificou-se ao tempo do rei D. Dinis, conseguindo obter
do papa Nicolau IV, a bula Pastoralis Officii (17 Setembro
de 1288) pela qual o papa aceita a autonomia portuguesa e
a eleição dum mestre português. Claro que o mestre de
Uclés não apreciou a ideia e contestou a decisão. E o
assunto não conheceu uma solução final e formal até ao ano
de 1452 (absorção do património da ordem pela coroa
portuguesa).
Esta questão ilustra a rivalidade luso-castelhana e a
inteligência do nosso monarca para quebrar a hegemonia,
embora indirecta, ou directa da coroa de Castela sobre a
ordem de Santiago, que se envolvera numa disputa pelo
trono. Para além de que uma ordem portuguesa de Santiago
eliminava uma possível ameaça externa, tendo em conta que
o tratado de Alcanizes ainda não fora assinado, e como
esta ordem controlava o Algarve e grande parte do Alentejo
sul, na eventualidade duma guerra com Castela, os
castelos, sob a égide de Santiago não resistiriam se os
seus líderes castelhanos fizessem parte desse hipotético
ataque.
Contudo fica a minha opinião de que foi uma manobra de
estadismo magnífica por parte do nosso rei, anulando de
uma só vez a influência do ramo castelhano da ordem em
Portugal como num plano mais elevado a própria coroa
castelhana.
Há que referir ainda uma outra ordem militar extremamente
importante para Portugal: a Ordem de Avis. A sua origem é
paralela à ordem leonesa de Alcântara.
No início é uma confraria militar fundada em 1167 em
Évora. Na verdade após a partida de Geraldo Sem Pavor e
dos seus companheiros, este território ficara sem
protecção militar. Assim o nosso rei D. Afonso I cria uma
instituição monástico-militar na cidade.
A ordem afilia-se a Calatrava., esta de filiação
cisterciense. Apresenta nos seus inícios uma vocação
militar muito forte. O seu primeiro mestre foi o cavaleiro
Gonçalo Viegas de Lanhoso, que morreu em Alarcos, em 1195.
Rapidamente as doações reais à ordem de Avis expandiram-se
para além de Évora. Em 1176 é-lhe concedido o castelo de
Coruche. Em 1187 recebem de D. Sancho I o castelo de
Alcanede e a terra de Alpedrinha. Pouco depois recebem
Benavento e Mafra. Em 1211 recebem Avis, com o compromisso
de a fazer popular e construir um castelo, concluindo em
1214.
Até este momento, o papel principal dos irmãos de Avis,
era o serviço ao rei e o povoamento, mas a ordem não
adquire um papel verdadeiramente importante até ao fim do
séc. XIII.
O património de Avis compõe-se de vários castelos
concentrados sobretudo no Alto-Alentejo, em redor de Avis,
onde existem nove fortalezas: Benavento, Coruche, Seda,
Alter Pedroso, Avis, Veiros, Juromenha, Alandroal e Évora.
Possuem ainda: Alcanede e Mafra; Noudar; Paderne e
Albufeira.
Apesar de afiliada a Calatrava a monarquia portuguesa
procura autonomisá-la. O rei D. Dinis intervém na eleição
do mestre da ordem em 1311. De qualquer modo a sua
dependência era meramente formal, conciliada, com o
“direito de visita” por parte das autoridades de Calatrava
(direito reservado ao mestres de Calatrava que podia
visitar os territórios da ordem de surpresa para indagar
se a regra estava a ser cumprida e se os irmãos cumpriam
com todas as suas obrigações vendo também o estado do
património da ordem).
Todas as ordens dispõem de diversas vantagens tais como: o
prestigio; as isenções próprias das ordens monásticas; o
apoio do papa; os privilégios e os meios materiais
concedido pela monarquia; a ligação estreita com a
categoria social da nobreza.
Adquire um papel importante na sociedade portuguesa o que
leva que a partir do séc. XIII a monarquia pretende
controlá-las.
A referir que a intervenção militar das ordens em Portugal
foi acompanhada por uma colonização territorial que deixou
marcas profundas na paisagem rural e no povoamento do
reino, especialmente nas regiões do centro e do sul.
É importante ainda referir que a importância da jurisdição
espiritual das ordens nas terras conquistadas, deixa
marcas profundas e influencia os quadros mentais. Têm
também diversos conflitos com as populações o que
demonstra o comportamento senhorial dos membros das ordens
militares como administradores dum património senhorial.
Para os monarcas controlarem o património das ordens
geralmente socorriam-se das inquirições, não só para elas
como para nobres e outras instituições eclesiásticas. A
inquirição era uma “investigação” acerca dos bens
possuídos, se estavam legítimos ou não (isto é se a doação
ou posse estava documentada, e ai, saber-se-ia o que tinha
sido doado, como tinha sido doado e se não tinham
adquirido terras vizinhas ou próximas há custa duma certa
doação). Permitia ao rei conhecer a força das ordens, o
seu território e também os meios que possuíam ou seja o
património. Claro que terras sem carta de doação ou com
carta duvidosa eram-lhe retiradas e passavam para a coroa.
Outro meio usado pelos nosso monarcas foi o de “equilíbrio
de forças” entre as diversas ordens militares. Isso
nota-se na zona que cada uma tem sob seu controlo e não
favorecem uma mais que a outra mas procuram uma certa
harmonia entre os territórios dados a cada uma delas e
para que uma não se torne mais poderosa que as demais.
Durante a primeira fase da implantação do tabelionato no
reino (1212-47) não encontramos quaisquer oficiais nas
vilas localizadas nas regiões da Beira-Baixa e Alentejo
talvez por causa das vicissitudes da guerra. Porém
destaca-se uma presença notarial mais efectiva nas vilas
da ordem de Avis ou sob a sua jurisdição. A partir de 1266
adquirem cada vez mais importância a nível dos registos
sendo provável que a partir daí a instituição do
tabelionato se organiza assim: designação do tabelião em
articulação entre concelho/câmara e a ordem; provimento do
ofício pelo mestre/prior e por fim confirmado pelo rei,
com a abertura do sinal de tabelião em livro de
chancelaria.
Aqui se prova como após as guerras as ordens cada vez mais
se fundem na administração e governo público levando à sua
absorção total num período vindouro.
Nesta parte procuro abordar as principais inovações
introduzidas em Portugal devido às ordens militares no
campo da arquitectura militar.
Uma das inovações trazidas é a Torre de Menagem (a torre
maior dos castelos numa fase inicial ergue-se no meio da
construção isolada, posteriormente chega-se há muralha,
mas continua sempre com preponderância). É o caso de
Pombal e Tomar.
Outra das inovações é o alambor ou seja, a inclinação
voluntária da parede exterior do muro na base, o que
dificulta o trabalho dos sapadores e a aproximação das
máquinas de cerco, paralelamente elimina os ângulos
mortos, impedindo aos sitiantes de se abrigarem nesses
pontos evitando o “fogo” dos arqueiros.
Na Terra Santa várias fortalezas possuem-no tal como o
Krak de Chevaliers e o castelo de Belvoir (ver figuras 1 a
5). O mestre Gualdim Pais visitou-os antes de reproduzir o
sistema em Tomar.
A terceira inovação é o furdício, uma espécie de varanda
em madeira, construída no exterior ou em cima da muralha,
que permite um flanqueamento vertical e permite o disparo
de projécteis. O primeiro exemplo em Portugal aparece na
torre de Longroiva.
Os Hospitaleiros após receberem de D. Sancho I a Quinta de
Guidimtesta constróem a fortaleza de Belver, inspirada na
fortaleza oriental de Belvoir (ver figuras 4 a 6). Sendo
um bom exemplo das fortificações romanas no fim do séc.
XII apresenta uma forma arredondada, o número de torreões
associado ao muro é reduzido, no centro encontra-se a
torre de menagem aproveitando a existência duma pequena
colina, tendo 11 morteiros colocados na muralha exterior
apontados para o acesso ao castelo.
Penso que estas foram as grandes inovações trazidas para
Portugal pelas ordens militares internacionais (Templo e
Hospital) e que alteraram definitivamente o castelo
português a acrescentar ainda a influência que tiveram
sobre o património arquitectónico religioso trazendo
também as influências orientais (ver figura 7).
Porém não só foram elas a dar algo ao panorama dos
castelos portugueses. A ordem de Avis revela uma
capacidade fantástica de assimilar a herança recebida da
arquitectura militar muçulmana. Em muitas fortificações
reconstroiem sobre a estrutura muçulmana (o caso do
castelo da Juromenha).
Confiam também a construção a “alarifes” muçulmanos como o
caso do castelo do Alandroal. A estrutura do castelo é
cristã, o alcazar está isolado por um muro onde se insere
a torre de menagem, possui também uma cisterna interior e
as portas rodeadas por arcos cegos (arco grosso em que a
porta se encontra no fim), sistema desconhecido dos
cristãos. Possui também frases judiciosas em relevo o que
é estranho à epigrafia cristã. A título de curiosidade uma
dessas frases é: “Não há mais que um vencedor senão Alá”,
a divisa dos reis de Granada, o que diga-se é irónico num
castelo cristão. Este castelo não é nada mais que o
encontro entre duas civilizações, característica, aliás da
história peninsular.
Esta interpenetração não só se verificou neste ponto,
como, na língua, nas culturas da terra, na toponímia entre
outros. E não foi só a nível militar como também em outros
edifícios desde mesquitas transformadas em igrejas, como
casas entre outros edifícios.
O Templo foi o modelo para a maioria das ordens
religioso-militares. Calatrava, Alcântara, Avis
(posteriormente a efémera ordem de Santa Maria (1272-81) e
as ordens de Montesa (1317) e de Cristo (1319), herdeiras
dos Templários compõem a grande família das ordens
militares cistercienses ibéricas.
Há muito mais pontos em comum que diferenças entre as
ordens religioso-militares: o seu carácter religioso é
preponderante, mas os seus membros, continuam na maioria
laicos. Os irmãos das ordens são considerados como homens
piedosos e como bons intercessores perante Deus.
A retaguarda das ordens no ocidente está bem protegida
devido a disporem duma vasta rede de comendas e o seu
património acresce regularmente graças às trocas, às
compras e à exploração racional dos seus territórios o que
lhes assegura os recursos necessários à continuação da
actividade militar na “frente”.
A transferência de bens, de homens, de cavalos e de armas
para o oriente estimula o desenvolvimento das técnicas de
construção naval especialmente pelos Templários e pelos
Hospitalários, tal como operações financeiras como
transferências monetárias, câmbios e empréstimos.
A organização interna funda-se sobre as divisões políticas
e religiosas da época.
Distinguem-se três escalões:
a) Na base encontramos as comendas (com a casa principal,
as terras, casas secundárias ou casas membros) dirigidas
por um comendador.
b) A nível intermédio temos: as províncias (Templários),
os priorados (Hospitalários) e por vezes circunscrições
secundárias (os bailiados dividem as províncias do
templo).
Com os teutónicos há um grão-mestre territorial que
depende do grão-mestre da ordem.
Na península há uma estrutura intermédia para cada reino:
encomienda-mayor (comum ao Templo, ao Hospital e a
Santiago).
c) A nível superior existe: o mestre (ou grão-mestre) e
dignatários diversos (grão-comandante, marechal,
porta-estandarte).
No caso das ordens militares espanholas há uma dupla
hierarquia: militar e religiosa. Em Santiago e Calatrava
um prior dirige os clérigos da ordem, que vivem, por vezes
num convento separado.
Os três níveis costumam reunir-se em capítulos anuais para
discutir os seus problemas.
Quanto ao recrutamento, são todos laicos excepto os irmãos
capelães, se bem que aja laicos que pronunciem os votos
religiosos. Todos os homens livres podem entrar na ordem,
mas a nobreza é exigida para os cavaleiros. As categorias
dos irmãos são: cavaleiros, sargentos de armas
(combatentes) e irmãos do ofício (dirigem as actividades
económicas das comendas). Os camponeses que cultivam as
terras das ordens não são membros da ordem, mas estão
sobre a sua protecção espiritual e física.
Na península os membros das ordens são irmãos e pronunciam
os três votos.
Os irmãos-cavaleiros compõem a ossatura das ordens
religioso-militares, mas há outras categorias como os
irmãos conversos (que não pronunciam os votos mas fazem
parte da ordem), e os irmão clérigos (asseguram o serviço
religioso e são padres).
Na península a organização das ordens é paralela:
-
Militar – o mestre (eleito pelos seus pares e que comanda
a milícia e o exército), o grão-comandante (que administra
o convento) e o “clavier”. Com a expansão das ordens
aparece o comendador, nomeado pelo mestre, e que comanda
uma unidade mais pequena.
-
Eclesiástica – o prior, o sub-prior, o sacristão e os
capelães.
Com a formação das comendas constitui-se a “Mesa Mestral”
que elege o mestre da ordem. A nível de governação interna
é de destacas os capítulos-gerais.
O hábito distingue os cavaleiros dos sargentos: só os
primeiros podem usar o manto branco dos Templários ou
Teutónicos ou o manto vermelho dos Hospitalários. As
mulheres não podem entrar na ordem do Templo, nas outras,
são admitidas na sua vertente caritativa. A ordem de
Santiago aceita homens casados que vivam sobre a regra da
“castidade conjugal” e para estarem com as mulheres só
fora do convento.
Na Terra Santa aceitam o serviço temporário de senhores
que servem “por um tempo”, podendo também ser-se confrade
duma ordem militar, legando-lhe os seus bens mas sem
pronunciar os votos.
Os irmãos das ordens vivem sobre uma regra (uma declaração
de princípios que devem respeitar tal como um código de
vida comunitária).
Os Templários inspiram-se na regra beneditina mas seguem
na vida conventual os usos dos cónegos de Santo Agostinho.
Os Hospitalários seguem a regra de Santo Agostinho. Os
Teutónicos inspiram-se nos Hospitalários na prática da
caridade e nos Templários na prática da vida conventual.
As ordens militares espanholas adoptam a regra da ordem de
Cister e a ela se afiliam, excepto Santiago, dispondo o
abade de Cister do direito de visita sobre elas.
Durante as campanhas militares, nos acampamentos, fazem
adoptar os usos religiosos, mudam os horários do ofício
canónico geralmente para a noite, e os dias de jejum
tendem a ser praticados cada vez mais no Inverno.
As ordens estão colocadas sobre a dependência do papa, ou
seja, os seus camponeses não pagam os dízimos e só o papa
pode excomungar os irmãos.
Nas “linhas da frente” constróem enormes castelos enquanto
na retaguarda estabelecem-se em conventos rurais ou
quintas fortificadas tendo por objectivos captar proventos
destinados ao financiamento da guerra contra o Islão e
onde formavam os irmãos mais jovens e para onde se
retiravam os irmãos mais velhos.
Quanto a Portugal, a ordem de Avis esteve na dependência
normativa da ordem de Calatrava. A ordem de Cristo está
também dependente de Calatrava até ao séc. XV. A ordem
portuguesa de Santiago depende de Uclés, em Castela.
Há ainda um tema que é importante focar: as Visitações.
Eram inspecções periódicas cujo propósito é conhecer o
estado de conservação do património da ordem tal como o
comportamento dos irmãos. Os visitores eram nomeados em
capitulo-geral e deviam registrar em livros os seus
resultados.
Em matéria de vida religiosa há diferenças profundas entre
os membros das ordens e a população laica. As regras e
estatutos fixam essa diferença: tinham que cumprir as
horas canónicas, assistir à missa todos os dias, praticar
a comunhão, a confissão, os jejuns e ler a regra da ordem
respectiva ao menos uma vez por mês. No convento deviam
submeter-se às obrigações da vida comum.
Assim termino o meu trabalho. Penso ter mostrado o papel
das diversas ordens religioso-militares em Portugal.
Fiz uma breve referência ao que foram, em que
circunstância nasceram e o rumo que tomaram. Também
pretendi escrever acerca da sua importância a nível
militar, o seu papel na sociedade e um olhar sobre a sua
organização e influências que introduziram no ocidente.
Agradeço a oportunidade para fazer este trabalho que me
deu muito gosto.
Agradeço também ao meu colega e amigo João Pedro Cotrim
pela ajuda prestada na redacção final deste trabalho.
Deixo também os meus agradecimentos ao Dr. João Gouveia
Monteiro que muito me auxiliou.
Bréve Histoire des Ordres Religieux Militaires, collection
bréve Histoire, Alain Demurger
O tempo dos cavaleiros, dossiers o homem e a história,
Editora Pergaminho
As ordens militares em Portugal e no sul da Europa, Actas
do II encontro sobre ordens militares, Edições
colibri/câmara municipal de Palmela, 1997
As ordens militares: guerra, religião, poder e cultura,
Actas do III encontro sobre ordens militares, volume 2,
Edições colibri/câmara municipal de Palmela, 1999

Mapa 1 – Estados Latinos do Oriente na Costa
Sírio-Palestiniana.





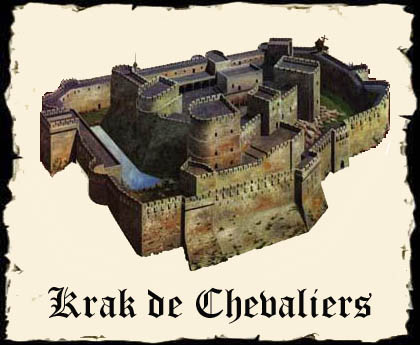 

Figura 3 – Krak de Chevaliers (visão actual)



Figura 5 – Ruínas do Castelo Hospitalário de Belvoir.

Figura 6 – Castelo de Belver, inspirado no Castelo de
Belvoir na Terra Santa.



Figura 8 – Jacques de Mollay, último grão-mestre da Ordem
do Templo.
Coimbra
Maio de 2003
João Simões |
